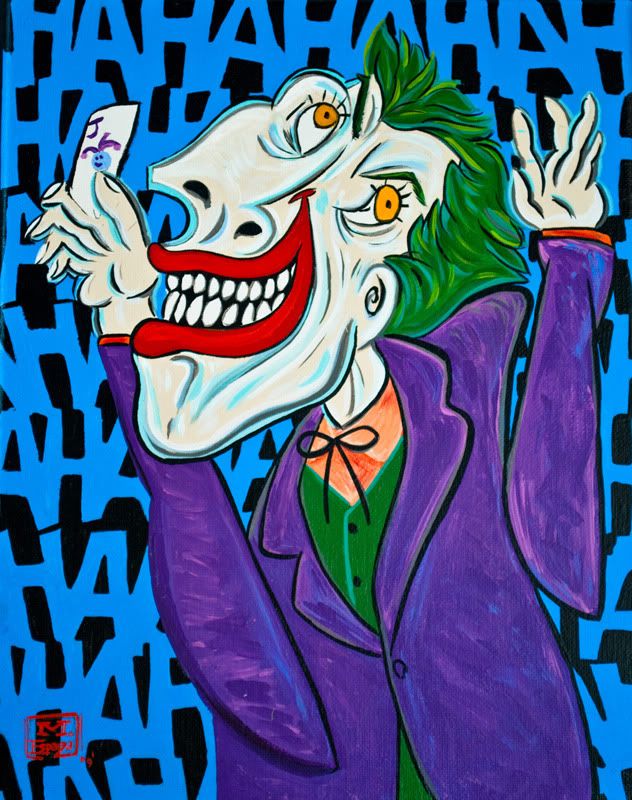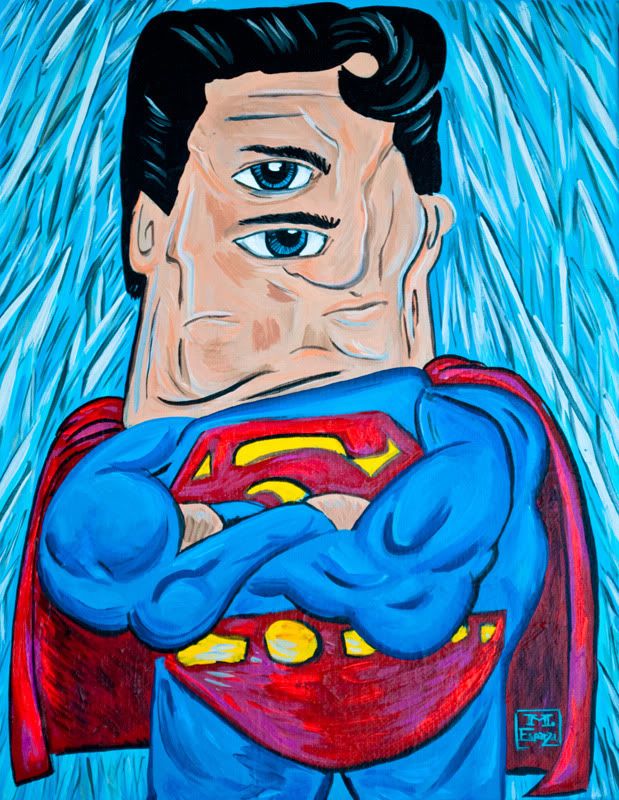Folha de São Paulo
Matemático polemiza em "Por que a Ciência Não
Consegue Enterrar Deus"
O matemático britânico John C. Lennox, da
Universidade de Oxford, defende com argumentos sólidos a possibilidade de
coexistência entre o conhecimento científico e a religião em "Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus".
O objetivo do livro é fornecer um amparo fortemente embasado para os
cientistas, ou qualquer leitor, que sintam necessidade de debater em favor de
sua crença.
Ao longo dos capítulos, o autor usa linguagem
simples e citações de outros autores para mostrar que as descobertas feitas
pelo homem não excluem a existência de um Deus. Lennox também expõe o que
considera as fraquezas da ciência e revela que a maior parte das respostas que
ela oferece são especulações teóricas que precisam da fé da comunidade
científica para existir. Ele ainda ressalta momentos em que os acadêmicos
precisaram se desmentir e até voltar atrás com suas afirmações.
Entre os temas discutidos estão o embate entre as
cosmovisões, a organização da natureza e do universo, a complexidade da
biosfera, a origem da vida e do código genético e a proximidade com a religião
mantida por grandes cientistas como Francis Bacon, Galileu Galilei, Isaac
Newton e Clerk Maxwell.
Leia trecho inicial do capítulo "Deus - Uma
Hipótese Desnecessária?".
Deus - Uma Hipótese Desnecessária?
A ciência tem alcançado êxito impressionante na
investigação do Universo físico e na elucidação de como ele funciona. A
pesquisa científica também levou à erradicação de muitas doenças horríveis e
nos deu esperanças de eliminar muitas outras. E a investigação científica
alcançou outro efeito numa direção completamente diferente: ela serviu para
libertar muita gente de medos supersticiosos. Por exemplo, ninguém precisa mais
pensar que um eclipse da Lua é causado por algum demônio assustador, que
necessita ser apaziguado. Por tudo isso e por inúmeras outras coisas devemos
ser muito gratos.
Porém, em algumas áreas, o próprio sucesso da
ciência tem também conduzido à ideia de que, por conseguirmos entender os
mecanismos do Universo sem apelar para Deus, podemos concluir com segurança que
nunca houve nenhum Deus que projetou e criou este Universo. Todavia, esse
raciocínio segue uma falácia lógica comum, que podemos ilustrar como segue.
Tomemos um carro motorizado Ford. É concebível que
alguém de uma parte remota do mundo que o visse pela primeira vez e nada
soubesse sobre a engenharia moderna pudesse imaginar que existe um deus (o sr.
Ford) dentro da máquina, fazendo-a funcionar. Essa pessoa também poderia
imaginar que quando o motor funcionava suavemente o sr. Ford gostava dela, e
quando ele se recusava a funcionar era porque o sr. Ford não gostava dela. É
óbvio que, se em seguida a pessoa passasse a estudar engenharia e desmontasse o
motor, ela descobriria que não existe nenhum sr. Ford dentro dele. Tampouco se exigiria
muita inteligência da parte dela para ver que não é necessário introduzir o sr.
Ford na explicação de funcionamento do motor. Sua compreensão dos princípios
impessoais da combustão interna seria mais que suficiente para explicar como o
motor funciona. Até aqui, tudo bem. Mas se a pessoa então decidisse que seu
entendimento dos princípios do funcionamento do motor tornavam impossível sua
crença na existência de um sr. Ford, que foi quem de fato projetou a máquina,
isso seria evidentemente falso - na terminologia filosófica ela estaria
cometendo um erro de categoria. Se nunca houvesse existido um sr. Ford para
projetar os mecanismos, nenhum mecanismo existiria para que ri
Religiosidade,
seita, culto, superstição, espiritualidade, fé, magia. Os elementos que definem
"religião" não são consensuais nem mesmo entre os especialistas.
Em "Introdução à Ciência da Religião",
o hist procura esclarecer o que dificulta a generalização do termo.
Originalmente, segundo o autor, "o termo
contrastante de religio, a superstitio, não se referia a uma fé errada
(posteriormente "superstição"), mas uma atuação errada --errada no
sentido de um ato incorreto ou também realizado de modo exagerado, sem
legitimação ou autorização."
A ciência da religião se refere a uma pesquisa
empírica, histórica e sistemática da religião e de religiões, uma disciplina
autônoma das ciências humanas. O livro é uma introdução ao objeto e às tarefas
da área.
Autor concilia religião e
ciência em "Teologia e Física"
Nascidas da mesma necessidade do homem
de explicar e entender o mundo, a teologia e a física são duas formas de
perceber a realidade e os fenômenos da natureza. Enquanto a primeira admite a
existência do sagrado e de uma força organizadora do cosmos, a última escolheu
as vias do empirismo e da comprovação para chegar às suas conclusões.
O pensador italiano Simone Morandini
propõe uma cuidadosa reaproximação destes dois ramos do pensamento --que já
caminharam juntos-- no livro"Teologia e
Física". Na obra, o autor procura demonstrar, de forma
detalhista, como as principais teorias da física admitem a existência do
transcendental.
Precavido, o intelectual sugere que a
reconciliação seja feita de maneira crítica. Ele previne os leitores com
relação a abordagens equivocadas, distorcidas e interesseiras sobre o tema
(veja abaixo).
Morandini usa trabalhos e teorias
clássicos da física para contruir sua tese e demonstra, ao longo das páginas,
que muitos cientistas já não renegam e até apoiam explicações de origem
teológica como parte de alguns fenômenos.
rspectivas
fascinantes, diante das quais não causa admiração o reemergir de um interesse
pelo entrelaçamento de ciência, filosofia e discurso sobre Deus, que parece se
revelar no início do milênio. A proliferação da divulgação científica dedicada
à cosmologia parece caminhar pari passu com o uso - nem sempre
apropriado - de termos como "Deus" ou "divino" em seus
títulos. Há, certamente, o risco de reducionismo e de hipertrofia, talvez
induzida pela miragem de fáceis vendas editoriais, que não pode, todavia,
obscurecer o interesse pelo uso de um termo tão carregado de conotações pesadas
na cultura ocidental. Quem fala do início do todo evoca também sempre - seja
muitas vezes somente de modo implícito, seja em formas às vezes logicamente
discutíveis - o problema da sua origem, e aqui a palavra de Deus parece assumir
significados relevantes.*
*
"O ateísmo é
anormalidade", diz autor de "O Homem Eterno"
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936),
escritor londrino, foi um dos maiores defensores do cristianismo em uma época
que o ateísmo era uma tendência entre intelectuais.
O progresso técnico e o desenvolvimento
científico --principalmente após a Revolução Industrial, no século 18--
despertaram no homem um sentimento de controle da natureza e de independência.
As críticas à doutrina e aos mistérios do cristianismo não era novidade entre
os filósofos. O pensamento estava presente em iluministas como Voltaire (1694-1778).
Foi nesse cenário que Chesterton
defendeu a fé e a existência de Deus. O autor exerceu grande influência e
chegou a debater o assunto com Bertrand Russell (1872-1970), o ateu mais
famoso e ativo da filosofia contemporânea.
Em "O Homem Eterno" (Mundo
Cristão, 2010) reconta, com o seu característico humor britânico, a história da
humanidade apontando a ação de Deus no mundo. Ao argumentar contra os céticos,
diz no livro: "o ateísmo é anormalidade".
Conta-se que o volume foi o responsável
pela conversão de C. S. Lewis, autor de "As Crônicas de Nárnia", ao
cristianismo. Leia, abaixo, um trecho do exemplar.
*
Aquela mitologia e aquela filosofia, à
luz das quais o paganismo já foi analisado, ambas haviam sido bebidas
literalmente até as fezes. Se com a multiplicação da magia o terceiro
departamento, que denominamos demônios, estava cada vez mais ativo, ele nunca
significou outra coisa que não fosse destruição. Resta apenas o quarto
elemento, ou melhor, o primeiro; aquele que em certo sentido fora esquecido por
ser o primeiro. Refiro-me àquela primeira, dominante e mesmo assim
imperceptível impressão de que o universo no fim das contas tem uma única
origem e um único objetivo; e por ter um objetivo deve ter um autor. O que
aconteceu nessa época com essa grande verdade no fundo da mente humana talvez
seja mais difícil determinar. Alguns dos estoicos sem dúvida viram isso cada
vez mais claro à medida que as nuvens da mitologia se abriram e desfizeram; e
dentre eles grandes homens fizeram muito lutando até o fim para lançar os
fundamentos de um conceito da unidade moral do mundo. Os judeus ainda tinham
sua secreta certeza disso ciosamente guardada atrás de altas cercas de
exclusividade; no entanto, uma forte característica da sociedade nessa situação
é o fato de que algumas figuras em voga, especialmente senhoras, realmente
abraçaram o judaísmo. Mas no caso de muitas outras pessoas imagino que nesse
ponto surgiu uma nova negação. O ateísmo tornou-se realmente possível nesse
tempo anormal, pois o ateísmo é anormalidade. Não é simplesmente a negação de
um dogma. É a inversão de um pressuposto subconsciente da alma; a sensação de
que existe um significado e uma direção no mundo que ela enxerga. Lucrécio, o
primeiro evolucionista que se esforçou para substituir Deus pela evolução, já
havia exposto aos olhos dos homens sua dança de cintilantes átomos, com a qual
ele concebeu o cosmo sendo criado do caos. Mas não foi sua forte poesia ou sua
triste filosofia, imagino eu, que possibilitaram aos homens acalentar essa
visão. Foi algo no sentido de uma impotência e um desespero, e com isso os
homens ergueram em vão os punhos contra as estrelas, quando viram as mais belas
obras da humanidade afundando lenta e fatalmente num lodaçal. Eles poderiam
facilmente acreditar que até a própria criação não era uma criação, mas uma
perpétua queda, quando viram que as mais sólidas e dignas obras de toda a
humanidade estavam caindo devido a seu próprio peso. Poderiam imaginar que
todas as estrelas eram estrelas cadentes; e que os próprios pilares de seus
solenes pórticos estavam se curvando sob uma espécie de crescente Dilúvio. Para
gente naquele estado de espírito havia um motivo para o ateísmo, que em certo
sentido é racional. A mitologia poderia desaparecer e a filosofia poderia
fossilizar-se; mas, se por trás dessas coisas havia uma realidade, com certeza
essa realidade poderia ter sustentado as coisas que iam caindo. Não existia
nenhum Deus; se existisse um Deus, com certeza esse era o momento exato para
ele agir e salvar o mundo.
Teologia se tornou
dependente de ídolos do pensamento
Com a tentativa de se modernizar, o
cristianismo buscou o dialogo com os pensadores mais influentes de nosso tempo,
como Marx, Nietzsche e Freud. Contudo, a teologia católica acabou por se
submeter e perdeu sua autonomia secular.
Segundo Luiz Felipe Pondé, teólogos
passaram a "pedir a benção" de ídolos do pensamento. O problema é
que, em grande parte, teóricos contemporâneos são contrários à fé e aos dogmas
religiosos.
"Resumindo: depois de Marx, um
religioso é um alienado, explorado por um clero a serviço da elite, que detém
os meios de produção; depois de Nietzsche, um religioso é um covarde; depois de
Freud, um religioso é um retardado", sintetiza Pondé --com sua habitual
sutileza-- no livro "O Catolicismo Hoje".
O livro, parte da coleção "Para
Entender", reflete sobre conflitos ideológicos, como o avanço do direito
dos homossexuais, islamismo e o papel da mulher, e examina como acusações de
pedofilia atingem a imagem dos sacerdotes.
Pondé, que participou da Flip deste
ano, é doutor em filosofia pela USP (Universidade de São Paulo) e pela
Université de Paris 8, colunista da Folha e professor de
ciência da religião.
Historiador delineia mitos
e símbolos que dão sentido à vida
Publicado pela editora Zahar, o livro
acaba de chegar às livrarias com tradução de Roberto Cortes de Lacerda. A obra
é leitura recomendada para todos os que se interessam pelo estudo das religiões
e da cultura.
No primeiro volume, o autor tratou do
desenvolvimento das crenças da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis.
Previsto para o próximo semestre, a terceira parte tratará do surgimento do
islamismo até chegar à Era das Reformas.
Marcelo Gleiser investiga
discurso ateísta da ciência; leia trecho
Professor de filosofia natural e de
física e astronomia, Marcelo Gleiser é conhecido no Brasil por apresentar temas
complexos das ciências de maneira compreensível.
Em seu novo livro, "Criação Imperfeita", Gleiser examina e
contesta mais de 2.000 anos de desenvolvimento científico, ao desmontar o maior
mito criado pela ciência: a perfeição da Natureza.
Grandes nomes da ciência, como Galileu,
Newton, Planck e Einstein, buscaram explicar o Universo em termos de simetria,
harmonia e ordem.
O físico esclarece a importância da
imperfeição no desenvolvimento do Universo e argumenta que a ciência não é
capaz de provar a inexistência de Deus e que jamais poderá explicar a realidade
por completo, posição que contradiz Richard
Dawkins e outros ateístas radicais.
Para Roald Hoffman, ganhador do prêmio
Nobel de química, "Marcelo Gleiser é nosso guia lúcido para onde a beleza
é encontrada em um universo imperfeito, assimétrico e acidental."
As
vezes, para enxergarmos mais longe, temos que olhar por cima dos muros que nos
cercam. Durante milênios, magos e filósofos, crentes e céticos, artistas e
cientistas vêm tentando decifrar o enigma da existência, convencidos de que a
incrível diversidade do mundo natural tem uma origem única, que a tudo engloba.
A essência dessa busca é a convicção de que, de alguma forma, tudo está
interligado, de que existe uma unidade conectando todas as coisas. Para
representar esta unidade, a maioria das religiões invoca uma entidade divina
que transcende os limites do espaço e do tempo, um ser com poderes absolutos
que criou o mundo e que controla, com maior ou menor arbítrio, o destino da
humanidade. Todos os dias, bilhões de pessoas vão a templos, igrejas, mesquitas
e sinagogas dedicar preces ao seu Deus, a fonte de todas as coisas. Não muito
longe dos templos, em universidades e laboratórios, cientistas tentam explicar
as várias facetas do mundo natural a partir de uma noção surpreendentemente
semelhante: que a aparente complexidade da Natureza é, na verdade, manifestação
de uma unidade profunda em tudo o que existe.
Neste livro, veremos que a crença numa
teoria física que propõe uma unificação do mundo material - um código oculto da
Natureza - é a versão científica da crença religiosa na unidade de todas as
coisas. Podemos chamá-la de "ciência monoteísta". Alguns dos maiores
cientistas de todos os tempos, Kepler, Newton, Faraday, Einstein, Heisenberg e
Schrödinger, dentre outros, dedicaram décadas de suas vidas buscando esse
código misterioso, que, se encontrado, revelaria os grandes mistérios da
existência. Nenhum deles teve sucesso. Nos dias de hoje, físicos teóricos,
especialmente aqueles que estudam questões relacionadas com a composição da
matéria e a origem do Universo, chamam esse código de "Teoria de
Tudo" ou "Teoria Final". Será que essa busca faz sentido? Ou
será que não passa de uma ilusão, produto das raízes míticas da ciência?
Se, quinze anos atrás, uma vidente me
dissesse que um dia escreveria este livro, não acreditaria. Passei meu
doutorado e a primeira década da minha carreira buscando por essa elusiva
Teoria Final, que unifica tudo o que existe. Não tinha dúvida de que esse era o
meu caminho. A candidata mais popular era, e ainda é, conhecida como teoria das
supercordas, segundo a qual as partes mais básicas da matéria, os tijolos a
partir dos quais tudo é construído, não são pequenas partículas como o elétron,
mas tubos submicroscópicos de energia que vibram freneticamente num espaço de
nove dimensões. A teoria, de uma elegância matemática extremamente sedutora,
deu passos importantes em direção a uma teoria unificada, se bem que, como
veremos, continua longe do seu objetivo. Milhares de mentes brilhantes
continuam tentando aprimorá-la, enquanto outras trabalham em teorias rivais.
Todas as teorias de unificação
baseiam-se na noção de que quanto mais profunda e abrangente a descrição da
Natureza, maior o seu nível de simetria matemática. Ecoando os ensinamentos de
Pitágoras e Platão, essa noção expressa um julgamento estético de que teorias
com um alto grau de simetria matemática são mais belas e que, como escreveu o
poeta John Keats em 1819, "beleza é verdade". Porém, quando
investigamos a evidência experimental a favor da unificação, ou mesmo quando
tentamos encontrar meios de testar essas ideias no laboratório, vemos que pouco
existe para apoiá-las. Claro, a ideia de simetria sempre foi e continua sendo
uma ferramenta essencial nas ciências físicas. O problema começa quando a
ferramenta é transformada em dogma. Nos últimos cinquenta anos, descobertas
experimentais têm demonstrado consistentemente que nossas expectativas de
simetrias perfeitas são mais expectativas do que realidades.
Mesmo que, inicialmente, minha mudança
de perspectiva tenha sido bastante difícil e mesmo dolorosa, aos poucos fui
reorientando minha pesquisa para uma nova direção. Comecei a reconhecer que não
é tanto a simetria, mas a presença de assimetria a responsável por algumas das
propriedades mais básicas da Natureza. Não há dúvida de que a simetria tem o
seu valor e continuará sendo extremamente útil na construção de modelos que
descrevem a realidade física em que vivemos. Porém, por si só, a simetria é
limitada: toda transformação que ocorre no mundo natural é resultado de alguma
forma de desequilíbrio. Como explicarei neste livro, da origem da matéria à
origem da vida, do átomo à célula, o surgimento de estruturas materiais
complexas depende fundamentalmente da existência de assimetrias.
Aos poucos, fui convergindo numa nova
estética, baseada na imperfeição. Que me perdoe o grande Vinicius de Moraes, mas
beleza não é fundamental. É o imperfeito, e não o perfeito, que deve ser
celebrado. Como no famoso sinal de Marilyn Monroe, a assimetria é bela
precisamente por ser imperfeita. A revolução na arte e na música do início do
século XX é, em grande parte, uma expressão dessa nova estética. É hora de a
ciência mudar, deixando para trás a velha estética do perfeito que acredita que
a perfeição é bela e que a "beleza é verdade".
Essa nova perspectiva científica tem
repercussões que vão muito além das universidades e dos laboratórios. Se
estamos aqui porque a Natureza é imperfeita, o que podemos afirmar sobre a
existência de vida no Universo? Será que podemos garantir que, dadas condições
semelhantes, a vida surgirá em outras partes do cosmo? E a vida inteligente?
Será que existem outros seres pensantes espalhados pela vastidão do espaço? De
forma completamente inesperada, minha busca científica levou-me a um novo modo
de pensar sobre o que significa ser humano: a ciência tornou-se existencial.
Oculta na busca pela unidade de todas
as coisas, encontramos a crença de que a vida não pode ser um mero acidente: se
forças superiores não tiverem planejado nossa existência, nada faz sentido. Não
importa se fomos criados por deuses, como afirmam muitas religiões, ou por um
universo cujo objetivo é gerar a vida. De um modo ou de outro, nossa presença
aqui tem que ter uma razão de ser. A alternativa seria deprimente: qual o
sentido da vida se ela tiver surgido acidentalmente num universo sem propósito?
Como consequência, muitos se ofendem quando é sugerido que estamos aqui devido
a uma série de acasos: Por que somos capazes de pensar, de amar e de sofrer com
tanta intensidade, de criar obras de enorme beleza, se mais cedo ou mais tarde
iremos todos perecer e, com raríssimas exceções, seremos esquecidos após
algumas gerações? Por que somos capazes de refletir sobre a passagem do tempo
se não temos o poder de controlá-la? Não, devemos ser criaturas divinas, ou ao
menos parte de um grande plano cósmico. Sermos meramente humanos não pode ser
toda a história.
Mas e se formos um acidente, um raro e
precioso acidente, agregados de átomos capazes de se questionar sobre a
existência? Será que devemos menosprezar a humanidade se não for parte de um
"grande plano da Criação"? Será que devemos menosprezar o Universo se
não existir um código oculto da Natureza, um conjunto de leis que explica todas
as facetas da realidade? Eu diria que não. Pelo contrário, a ciência moderna,
ao mesmo tempo que mostra que não existe um grande plano da Criação, põe a
humanidade no centro do cosmo. Podemos mesmo chamar essa corrente de
pensamento, que proponho aqui, de "humanocentrismo". Talvez não
sejamos a medida de todas coisas, como propôs o grego Protágoras em torno de
450 a.C., mas somos as coisas que podem medir. Enquanto continuarmos a nos
questionar sobre quem somos e sobre o mundo em que vivemos, nossa existência
terá significado.
Vamos considerar esse ponto mais
detalhadamente. Após apenas 400 anos de ciência moderna, criamos um corpo de
conhecimento que se estende do interior do núcleo atômico até galáxias a
bilhões de anos-luz de distância. Ao mergulharmos com nossos maravilhosos
instrumentos nos confins do muito pequeno e do muito grande, encontramos uma
infinidade de mundos de uma riqueza insuspeitada. A cada passo que demos, a
Natureza nos encantou e nos surpreendeu. Com certeza, continuará a fazê-lo. Ao
construirmos uma narrativa explicando como, a partir de uma sopa de partículas
elementares no Universo primordial, surgiram estruturas materiais cada vez mais
complexas, nos deparamos com uma incrível diversidade de formas que jamais
poderíamos ter imaginado. A Natureza é muito mais criativa do que nós. Dos
muitos mistérios que nos inspiram, talvez o mais instigante seja entender como
a matéria inanimada tornou-se viva, e como nossos primeiros ancestrais,
minúsculas bolsas de moléculas animadas, transformaram um planeta rochoso num
oásis de atividade biológica em meio a um cosmo frio e indiferente.
Vendo a riqueza da vida aqui, e sabendo
que as leis da física e da química permanecem válidas por todo o cosmo,
voltamos nossos instrumentos para nossos vizinhos planetários, buscando
avidamente por companhia. Infelizmente, apesar da convicção de que
encontraríamos algo, nos deparamos apenas com mundos mortos. Belos, sem dúvida,
mas destituídos de qualquer sinal óbvio de vida. Mesmo que algum ser vivo se
oculte no subsolo marciano ou nos oceanos gelados e escuros de Europa, a
enigmática lua de Júpiter, certamente terá pouco a ver com seres
autoconscientes, capazes de refletir sobre o sentido da vida. Se civilizações
alienígenas existirem - a busca por vida extraterrestre inteligente continua -
estão tão afastadas de nós que, na prática (e descontando especulações um tanto
fantasiosas), é como se não existissem. Enquanto estivermos sozinhos, produtos
de acidentes ou não, nós somos a consciência cósmica, nós somos como o Universo
reflete sobre si mesmo. Como veremos, essa revelação tem consequências
profundas. Mesmo que não tenhamos sido criados por deuses ou por um cosmo com o
propósito de gerar criaturas inteligentes, a verdade é que estamos aqui,
refletindo sobre a razão de estarmos aqui. E isso nos torna muito especiais.
Nosso planeta, pulsando com incontáveis
formas de vida, flutua precariamente num cosmo hostil. Somos preciosos por
sermos raros. Nossa solidão cósmica não deveria incitar o desespero. Pelo
contrário, deveria incitar o desejo de agirmos, e o quanto antes, para proteger
o que temos. A vida na Terra continuará sem nós. Mas nós não podemos continuar
sem a Terra. Ao menos não até encontrarmos uma outra casa celeste, o que tomará
muito tempo. Basta olhar em torno, para a situação delicada em que se encontra
o nosso planeta, para constatar que tempo é um luxo que não temos.